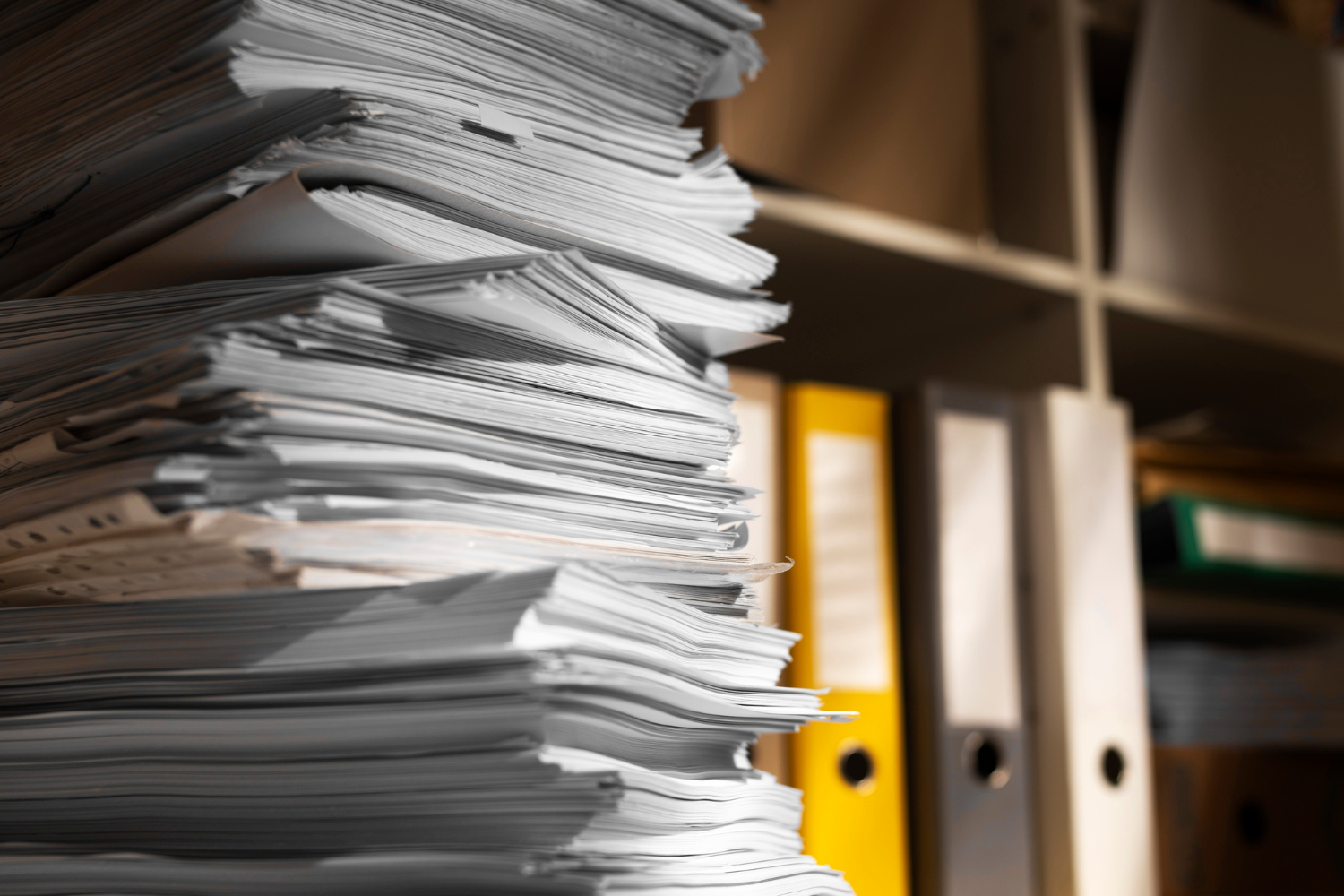Uma justiça penal sem verdade e sem igualdade
Quero fazer uma reflexão de fundo sobre o estado do nosso direito penal e processual, assim como sobre nossos estudos penalísticos e processualísticos. Não sou penalista. Por isso, meu ponto de vista será externo ao nosso sistema penal e terá por objeto duas graves involuções: a crise da legalidade penal e o crescimento da desigualdade perante a lei.
A primeira involução consiste no colapso da legalidade penal e, consequentemente, da verdade processual. Trata-se de uma crise gerada pela inflação legislativa, no plano quantitativo, e pela disfunção da linguagem legal, no plano qualitativo. Estima-se que, em nosso ordenamento, existam 35 mil tipos penais e milhares de leis penais, a ponto da Corte Constitucional ter sido constrangida, na célebre decisão n.º 364 de 1988, a admitir a escusabilidade por ignorância da lei quando esta, como frequentemente ocorre, for inevitável.
A violação da linguagem penal manifesta-se, por sua vez, em uma anti-linguagem burocrática, presente, sobretudo, nos decretos legislativos, elaborados nos gabinetes administrativos, e geralmente compostos por artigos e parágrafos longos, com palavras obscuras e ambíguas e, principalmente, com inúmeras remissões a artigos e parágrafos de outras leis, criando labirintos normativos indissolúveis e incompreensíveis.
É evidente que esse colapso da legalidade penal equivale ao fracasso dos próprios pressupostos da verdade processual e, com isso, da legitimação política do Poder Judiciário: equivale ao colapso da verificabilidade e falsificabilidade em abstrato, ou seja, dos pressupostos da verdade jurídica, bem como da verificação e falsificação em concreto, ou seja, dos fundamentos da verdade factual. O resultado desse caos é o crescimento do arbítrio judicial e a perda da legitimação da jurisdição.
A segunda involução refere-se à crescente desigualdade dos cidadãos perante a lei penal. Há mais de 30 anos, vem-se desenvolvendo um direito penal da desigualdade: um direito penal mínimo e brando para os poderosos, destinado a garantir sua impunidade; e um direito penal máximo e inflexível para os pobres, acompanhado, por vezes, de uma ostentação de desumanidade, com o objetivo de obter consenso.
Recordemos as inúmeras leis em benefício de Silvio Berlusconi, um verdadeiro corpus iuris ad personam, que o governo atual, aliás, complementou com diversas normas promulgadas ou prometidas: a Lei nº 199 de 30/12/2022, que excluiu do regime de prisão rígida previsto pelo artigo 4-bis apenas os condenados por peculato, concussão e corrupção; a abolição do crime de abuso de autoridade; a limitação das interceptações; e os recorrentes esforços para limitar a independência dos juízes e, sobretudo, do Ministério Público.
Simultaneamente, deu-se vida a um direito penal desigual e desumano, informado pela lógica do inimigo, invariavelmente identificado com os sujeitos mais vulneráveis: em primeiro lugar, os migrantes, que personificam os inimigos ideais, apontados pela demagogia populista e racista como pessoas inferiores e/ou perigosas; em segundo lugar, os detentos, grande parte dos quais submetidos a dois regimes de prisão rígida, ambos, a meu ver, ilegítimos; e, em terceiro lugar, os indivíduos perigosos ou suspeitos, punidos não pelo que fizeram, mas pelo que são — migrantes, mendigos, prostitutas, dependentes químicos, pessoas em situação de rua — por meio de um crescente arsenal de medidas pessoais de prevenção.
Crise da legalidade e ciência penalística italiana
Como a cultura penalística e processualística respondeu à primeira dessas duas involuções, ou seja, à destruição da legalidade? Tenho a impressão de que, diante do “direito penal que muda”, como sugere o título de uma coleção de estudos penalísticos, e do “direito penal em transformação”, como aponta o título de uma conhecida monografia, grande parte da cultura penalística — obviamente com algumas louváveis exceções — em vez de criticar esse desvio e propor as garantias necessárias para impedi-lo, adaptou-se a ela, e por vezes, abandonou os princípios, promovendo uma espécie de regressão ao direito penal pré-iluminista.
A resposta à crise de uma cultura garantista deveria ter consistido na proposta de uma refundação da legalidade penal. Assim como, há quatro séculos, Thomas Hobbes, diante da incerteza e do arbítrio do direito premoderno, provocados pela jurisprudência caótica e desordenada dos juízes, opôs a autoridade da lei, isto é, a reserva de lei em matéria penal, hoje, diante da total incerteza e arbítrio provocados por uma legislação ainda mais caótica e desordenada, o único remédio é a refundação e o fortalecimento da legalidade.
Esse reforço, a meu ver, só pode ocorrer por meio da transformação da reserva de lei em uma reserva de código, estabelecida em nível constitucional — todas as normas e, temas de crimes, processos e penas devem estar nos códigos; nenhuma fora deles — vinculando o legislador à sistematicidade, coerência e capacidade de conhecimento do direito penal.
Somente assim é possível restaurar a sujeição dos juízes à lei e o caráter cognitivo do juízo, baseado justamente no acertamento da verdade processual. Obviamente, essa verdade não é uma verdade absoluta ou objetiva, já que apenas as teses da lógica e da matemática podem sê-lo. Trata-se, antes, de uma verdade relativa.
Precisamente, trata-se de uma verdade opinável em direito, dada a discricionariedade interpretativa que sempre acompanha o acertamento da verdade jurídica, e probabilística em fato, já que a verdade factual não pode ser demonstrada, mas apenas sustentada por uma pluralidade de confirmações e, portanto, exige, como um frágil, mas necessário substituto de uma impossível certeza objetiva, ao menos, a certeza subjetiva, ou seja, o livre convencimento do juiz.
A nossa cultura jurídica, no entanto, aceitou o caos normativo em que se transformou nosso direito penal como se fosse um fenômeno natural. Assim, renunciou, tanto à crítica de seu distanciamento dos princípios, quanto ao planejamento de garantias adequadas para tornar possível um grau aceitável de sujeição dos juízes à lei e um grau plausível de verdade processual. Respondeu a ambas as crises — a da verdade jurídica e a da verdade factual — com uma regressão epistemológica ao direito pré-moderno.
No plano da verdade jurídica e do direito penal substancial, abandonou-se a concepção cognoscitivista da jurisdição, substituída por uma concepção criacionista. O princípio auctoritas non veritas facit legem — que, se a lei é clara e inequívoca, tem como corolário o princípio veritas non auctoritas facit iudicium — foi transformado, graças também às teses cada vez mais difundidas da conexão objetiva entre direito e moral, nos princípios opostos: veritas facit legem e auctoritas facit iudicium, ou seja, na ideia de que é a autoridade do juiz que cria o direito, ontologicamente fundado em sua justiça pelo menos tolerável.
Por trás dessa operação está a ideia arcaica e ilusória de uma verdade empírica objetiva, como aquela expressa na imagem do juiz “boca da lei”. Karl Popper distingue entre “verificacionistas iludidos” e “verificacionistas desiludidos”: os primeiros acreditam na possibilidade de alcançar uma verdade empírica objetiva ou absoluta; os segundos, diante da impossibilidade de alcançar essa verdade, acabam por cair no irracionalismo e no ceticismo, ou seja, na ideia de que nenhuma tese empírica é verdadeiramente sustentável.
A mesma distinção pode ser aplicada à verdade processual: os verificacionistas ou iluministas iludidos são aqueles que, tendo, como os iluministas iludidos, uma ideia da verdade processual como verdade absoluta ou objetiva e reconhecendo que tal verdade não é alcançável, caem no criacionismo, ou seja, na concepção da interpretação como a criação de um novo direito. A “interpretação criativa” é uma contradição em termos: onde há interpretação não há criação, onde há criação não há interpretação.
Por outro lado, na esfera da verdade factual e do direito processual penal, vem-se consolidando, entre alguns estudiosos, uma estranha epistemologia baseada em standards probatórios. Standard probatório é, em minha opinião, uma noção inconsistente: quer se entenda tais padrões como padrões objetivos, ou seja, retirados da livre apreciação do juiz, ou como padrões em abstrato, ou seja, independentes da singularidade do caso.
Em todos os casos, são padrões dotados de um valor probatório vinculante, cuja adoção equivale a uma regressão ao sistema de provas legais. Por mais insensata e até então minoritária, essa orientação corre o risco de ser hoje creditada à atração exercida pela aplicação da inteligência artificial à jurisdição, que, por trás da ideia de maior objetividade, imparcialidade e igualdade, ou seja, de uma justiça exata ao invés de uma justiça justa, está inevitavelmente destinada a produzir a homologação de decisões, o rebaixamento das garantias da prova e a estabilização das conotações desiguais e classistas da justiça derivadas dos precedentes judiciais.
Acrescente-se a isso a quebra do processo penal provocada pelas verdades alegadas nos chamados ritos alternativos. Esses ritos equivalem, na realidade, à negação da prova, substituída por uma troca desigual e inquisitorial entre a confissão e a redução da pena, em que a acusação tem a vantagem e, enquanto os poderosos, graças às suas defesas caras, só aceitam a pena negociada se forem culpados, os pobres são forçados a aceitá-la, embora inocentes, como um mal menor, em comparação com a pena maior que sofreriam na ausência de um advogado de defesa, durante a instrução e o julgamento.
De acordo com a bela reportagem de hoje de Malena Pastor, nos Estados Unidos, 98% das condenações resultam de acordos judiciais e apenas 2% resultam de julgamentos. Em Buenos Aires, a porcentagem de condenações resultantes de acordos judiciais é de 83%. Na Itália, graças à obrigatoriedade da ação penal, que não permite a negociação de acusações – e, não surpreendentemente, contestada pelos defensores dos privilégios – essa porcentagem é de apenas 30%.
Direito penal da desigualdade e ciência penalística italiana. Sobre o papel da cultura jurídica
Não menos grave é a involução desigual do nosso sistema punitivo, que se manifesta na legislação contra os migrantes, no aumento desumano das condições carcerárias e no desenvolvimento de um direito penal preventivo, que penaliza não o que se fez, mas o que se é. Essas involuções são acompanhadas pela adoção de um novo método legislativo: o desenvolvimento, a partir de uma lei-base, de uma série ininterrupta de normas — geralmente decretos-lei — que, gradualmente, tem agravado e tornado mais arbitrárias e desumanas as restrições aos direitos dos migrantes, as condições de vida das pessoas privadas de liberdade e os abusos na adoção de medidas preventivas.
No âmbito da imigração, a lei-base foi a lei Turco-Napolitano de 1998, que introduziu uma primeira e limitada “detenção administrativa” dos migrantes, posteriormente agravada pela lei Bossi-Fini de 2002 e atribuída à competência de juízes de paz, em vez de magistrados profissionais, por um decreto-lei de 2004.
Seguiram-se a Lei nº 94 de 2009, que introduziu o crime de entrada clandestina, conferindo ao imigrante irregular o status de “pessoa ilegal”; o Decreto-Lei Minniti de 2017, que ampliou as hipóteses de detenção administrativa e reduziu, ainda mais, as garantias no âmbito do asilo; os Decretos-Lei Salvini, que estenderam a duração da detenção administrativa para 18 meses, suprimiram a permissão de residência por motivos humanitários e ordenaram o fechamento de portos às embarcações de ONGs que resgatam migrantes naufragados no mar; e, finalmente, os Decretos Meloni-Piantedosi de 2023, destinados a impedir ou dificultar os resgates no mar.
No âmbito carcerário, o desenvolvimento de um direito punitivo desumano foi confiado ao agravamento progressivo de dois regimes de prisão rígida: o previsto no artigo 4-bis da Lei Penitenciária de 1991, reiteradamente endurecido, conhecido como “ostativo” (hostil) porque impede a concessão de permissões e benefícios de pena sem a “colaboração com a justiça”; e o regime previsto no artigo 41-bis, introduzido como medida de gestão prisional pela Lei Gozzini de 1986, mas transformado, por meio de uma longa série de leis e decretos-lei subsequentes, em uma “pena dentro da pena”, inacreditavelmente ordenada pelo ministro da Justiça, em flagrante violação à separação dos poderes e aos artigos 13 e 25 da Constituição.
O direito penal da desigualdade — como o direito penal não do fato, conforme exige o artigo 25 da Constituição, mas do autor — finalmente triunfou com o desenvolvimento de medidas preventivas: um conjunto de medidas chamadas administrativas (como a “detenção administrativa” de migrantes), para ocultar seu conflito com os princípios básicos do Direito Penal, como a legalidade e a retributividade.
Essas medidas incluem a vigilância especial, o afastamento obrigatório e o confinamento, aplicados a pessoas consideradas “perigosas” ou “suspeitas”, sem maiores especificações: os “ociosos, vagabundos, mendigos e outras pessoas suspeitas”, de acordo com a lei piemontesa de 1839, que os introduziu pela primeira vez; “as classes perigosas da sociedade”, de acordo com a Lei de Consolidação Zanardelli de 1889; os “inaptos para o trabalho sem meios de subsistência” e as pessoas “suspeitas” ou “perigosas para a ordem pública”, ou aquelas que realizam atividades contra os poderes do Estado, ou seja, antifascistas, de acordo com o texto de segurança pública Rocco de 1931; novamente, os “ociosos, vagabundos, aqueles envolvidos em tráfico ilícito” e aqueles que “habitualmente realizam atividades contrárias à moral pública e aos bons costumes”, de acordo com a lei republicana de dezembro de 1956, ampliada repetidamente nos anos seguintes, legitimada com a inclusão, entre seus destinatários, daqueles suspeitos de atividades mafiosas, e reformulada com a emissão, em 2011, de um verdadeiro código de medidas de prevenção.
A doutrina jurídica ignorou ou, quando muito, ocupou-se apenas marginalmente desse direito penal da desigualdade, que é, em sua maior parte, contrário à letra ou, pelo menos, ao espírito da Constituição. O debate público, por outro lado, voltou a sua atenção, exclusivamente, aos processos contra os poderosos, para os quais o respeito às garantias é legitimamente reivindicado. Todavia, considero um insulto à razão chamar de “garantismo” este garantismo da desigualdade e do privilégio, que ignora os horrores da prisão rigorosa, a vergonha das leis contra os migrantes e a incivilidade das medidas de prevenção.
E considero uma abdicação científica e cívica da razão a teorização do papel criativo da jurisdição e, por outro lado, a renúncia à crítica das violações dos princípios de igualdade, legalidade e retributividade, que formam a alma do garantismo e do constitucionalismo penal.
Concluo, portanto, levantando uma questão fundamental, que diz respeito ao papel e ao estatuto da ciência penalística: se ela deve apenas interpretar o direito vigente, ou, também, criticar sua ilegitimidade jurídica ou política por violação dos princípios teóricos — em grande parte constitucionalizados — do garantismo penal e processual.
Se ela deve ser um saber puramente técnico, ou deve também se questionar sobre os fundamentos de legitimação da justiça penal, com o auxílio da filosofia política, e sobre as razões da distância entre princípios e práticas punitivas, com o auxílio da sociologia do direito. A reflexão sobre os fundamentos foi a base da penalística inaugurada na Itália por Cesare Beccaria e continuada por Gaetano Filangieri, Mario Pagano, Gian Domenico Romagnosi e Francesco Carrara.
No entanto, no início do século passado, houve uma guinada, promovida pelo método técnico-jurídico de Arturo Rocco e Vincenzo Manzini, que defendia a autonomia da ciência penal em relação à filosofia e à sociologia. Mais tarde, nas décadas de 1970 e 1980, redescobriu-se a Constituição, e o garantismo foi retomado como um projeto civilizatório de refundação democrática da justiça penal.
Hoje, tenho a impressão de que se está reafirmando o antigo método técnico-jurídico. A questão que devemos voltar a debater é aquela que sempre dividiu a cultura penalística: se esta deve consistir na mera descrição técnica do direito penal vigente, ou se, a essa descrição, deve acrescentar-se, graças à clara separação entre justiça e direito gerada pelo positivismo jurídico, aquilo que chamarei de “espaço Beccaria” da teoria do garantismo, ou seja, a elaboração de princípios racionais de legitimação do direito penal como guias à crítica do direito existente e à projeção do direito futuro.
*tradução de Ana Cláudia Pinho, doutora em Direito. Professora da UFPA (Universidade Federal do Pará). Coordenadora do Grupo de Pesquisa “Garantismo em Movimento”. Promotora de Justiça do MP-PA.
**texto correspondente à intervenção de Luigi Ferrajoli em uma mesa redonda sobre Justiça Penal, no congresso internacional La verità nel processo penale (Roma-Bologna, 18 a 22 de janeiro de 2024).