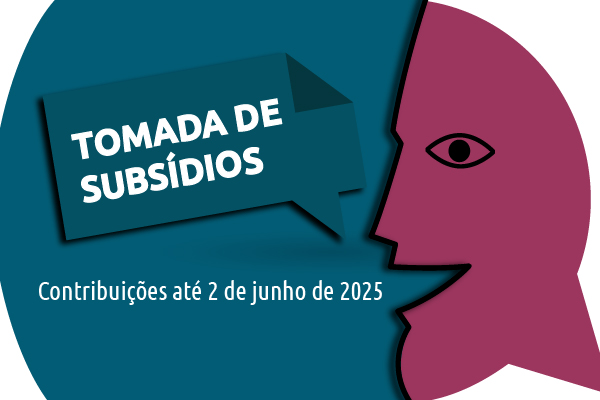Todos conhecem a anedota da pessoa que chega na farmácia e pergunta: você tem alguma coisa boa para gripe? O balconista, de pronto, responde que bom para a gripe seria andar na chuva sem camisa. Essa historinha sem muita graça (reconheçamos isso!), presta-se, no entanto, para que reflitamos, no uso da linguagem, principal ferramenta do direito, sobre o que efetivamente estamos a analisar quando debatemos, v.g., se a decisão “A” ou “B” é boa, sem um referencial preciso. Usamos, aqui, como exemplo, a decisão recente do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.293 [1].
Um pouco sobre o Tema 1.293
Quem acompanha a coluna Território Aduaneiro [2] e/ou atua no meio jurídico aduaneiro certamente já ouviu falar do Tema 1.293, que trata da aplicação do artigo 1º, § 1º, da Lei 9.873/1999 (sobre “prescrição intercorrente”), a “infrações aduaneiras de natureza não tributária”.
O leitor que fizer uma busca no sítio web do STJ pelas palavras-chaves “prescrição”, “intercorrente” e “aduaneiro”, encontrará cinco precedentes daquele tribunal que antecederam a afetação do tema, pelo STJ, todos referentes a 2023/2024, sendo quatro relativos à mesma multa, prevista no artigo 107 do Decreto-Lei 37/1966, com a redação dada pela Lei 10.833/2003, aplicada pela falta de prestação de informações pelo transportador, em exportações [3]. Em tais precedentes (assim como em outro, que lhes antecede, de idêntico teor, e que não apareceu na busca com as palavras-chaves eleitas — REsp nº 1.999.532/RJ, de 9/5/2023), informou-se expressamente que, por se tratar de informações sobre mercadorias embarcadas na exportação, a infração não tem perfil tributário, visto que a confirmação do recolhimento do imposto de exportação antecede o embarque das mercadorias para o exterior. O quinto precedente encontrado na busca, de 15/8/2024 (REsp 1.942.072/RS, de relatoria do ministro Mauro Campbell Marques, da 2ª Turma), trata de multa prevista no DL nº 399/1968, decorrente do descumprimento de obrigação tributária acessória relacionada à fiscalização do IPI.
Nesse cenário de precedentes, foram afetados à sistemática dos recursos repetitivos outros dois processos tratando da mesma multa pela falta de prestação de informações pelo transportador, os REsp 2147583/SP e REsp 2147578/SP. E, apreciando tais precedentes, o STJ fixou tese jurídica subdividida em três partes, sendo a primeira delas: (1) “Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1º, § 1º, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos”.
Nessa primeira parte, decidiu unanimemente o STJ, em interpretação ao texto do artigo 5º da Lei 9.873/1999, que dispõe que a lei “…não se aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária”, que o processo ou procedimento é “desimportante”, e que, portanto, trata o texto legal do artigo 5º não de processos ou procedimentos de natureza tributária, mas de infrações de natureza tributária (qualquer que seja o processo a que estejam sujeitas).
Bom para o Direito Aduaneiro?
Como bem destacado por Fernando Pieri e Pedro Mineiro na coluna aqui já citada, e como bem percebido por quem estuda o Direito Aduaneiro, este ramo jurídico é apenas marginal na decisão do STJ, que se limita a comparar de forma binária infrações administrativas tributárias e não tributárias, sendo tal distinção suficiente para o julgamento.
A segunda parte da tese jurídica fixada estabelece: (2) “A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação” (grifo dos colunistas).
Resumir as atividades aduaneiras a “controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro” não encontra paralelo em bibliografia aduaneira relevante, nacional ou internacional. Essa não parece ser a razão para que não haja nenhuma referência aduaneira na decisão do STJ, mas sim o fato de a parte 2 (e a menção ao que seria o “aduaneiro”) ser desnecessária, por derivar a contrário senso da última parte: (3) “Não incidirá o art. 1º, § 1º, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamenteà arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado” (grifo dos colunistas).
Perceba-se que a parte 2 trata da incidência geral da Lei 9.873, se a matéria for “administrativa não tributária” (seja ela administrativa aduaneira, mineral, agrícola, ambiental…), e a parte 3 trata da não incidência da lei se a matéria for tributária, assim definida aquela destinada “direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização” de tributos [4].
O Direito Aduaneiro, nacional e internacionalmente, abrange tanto uma área isolada do Direito Tributário (identificada pelo STJ como Direito Administrativo) quanto uma área que intersecciona o Direito Tributário. Quando a lei brasileira se refere à legislação aduaneira (v,g, artigos 59 a 81 da Lei 10.833/2003), não está somente a tratar da área não tributária, mas também da zona de intersecção com o Direito Tributário. Quando o Carf estabeleceu competência para as turmas aduaneiras, há um ano, não tratou somente de competência não-tributária.
Confundir as menções a “infrações aduaneiras” na legislação, nacional e internacional, ou em julgados do Carf, com as definições de “administrativo tributário” e “administrativo não tributário” da decisão do STJ equivale a saltar de um cenário (comum em 1999, quando a Lei 9.873 foi escrita) em que se defendia que o Direito Aduaneiro era mero subconjunto do Direito Tributário (acredite, ainda hoje há quem defenda essa posição!) para outro em que o Direito Aduaneiro não existe: ou é administrativo não tributário ou é tributário. Esse novo e “comemorado” “Direito Aduaneiro brasileiro inexistente”, permitiria o uso seletivo de institutos tributários e administrativo-aduaneiros, generalizando ideias pinçadas aqui e acolá, em ambientes desconexos, para alargar a compreensão de institutos, conforme a conveniência.
Já tínhamos confusões suficientes entre o “tributário” e o “aduaneiro” no Brasil para resolver, mormente entre as normas efetivamente aduaneiras (como o Decreto-Lei 37/1966) e as tributárias (como o CTN). A decisão do STJ acentua tal confusão, pois o “aduaneiro”, para os efeitos do precedente, passa a ser a soma do “administrativo não tributário” que trata de serviços ou trânsito, com o “administrativo tributário” inserido “em ambiente aduaneiro”. E mais, adota-se essa distinção como se ela fosse clara em 1999 (antes da própria existência da multa julgada, que nasceu em 2003), e a alastram-se os critérios distintivos adotados no julgamento (basicamente de uma multa) a um universo indefinido de infrações [5].
Bom para quem foi indevidamente autuado?
O Tema 1.293 já está sendo aplicado pelo Carf, que está determinando o sobrestamento de processos para os quais sejam identificados, ainda que preliminarmente, os requisitos da decisão do STJ, até que ocorra o trânsito em julgado, conforme previsão regimental (art. 100 do Ricarf).
Entretanto, nos casos em que as turmas do Carf detectem que a autuação é improcedente, os processos são julgados imediatamente, cancelando-se o lançamento (não tributário), sequer se cogitando o sobrestamento. É o caso, por exemplo, das retificações, na hipótese de multa por falta de prestação de informações pelo transportador, exatamente a apreciada pelo STJ (Súmula CARF 186).
Bom para quem desejava julgamento rápido?
Deixar um processo paralisado por mais de três anos (seja ele administrativo ou judicial, seja ele tributário ou não) é certamente algo ruim, indesejável, pois a justiça que tarda já falha. Em um país com altíssimos índices de litigância, como o Brasil, e péssimos índices de temporalidade, a própria legislação assegura o julgamento em menos de 360 dias. O art. 24 da Lei 11.457/2007 estabelece: “É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte”.
É comum que litigantes administrativos (não somente “contribuintes” na acepção estrita do termo) demandem em juízo que se determine o julgamento imediato do processo administrativo após o decurso de tal prazo, tendo o Carf respeitado todas as decisões judiciais com tal demanda.
Bom para a segurança jurídica?
A decisão proferida pelo STJ denota um novo entendimento, em meados de 2023, a respeito da interpretação de uma norma de 1999 (Lei 9.873). Veja-se que ainda em 2022, no AREsp 2076156 (ministro Francisco Falcão), a mesma multa por atraso na prestação de informações pelo transportador (art. 107, IV, “e”) sequer chegou ao colegiado (com trânsito em julgado em 30/06/2022), tamanha era a certeza de que o tema restava assentado pacificamente na jurisprudência daquele tribunal, no sentido de que: “…a demora na tramitação do processo administrativo fiscal não implica a preclusão do direito da União (Fazenda Nacional) de constituir definitivamente o crédito tributário, instituto esse não previsto no Código Tributário Nacional (REsp 53.467/SP)”, e “Conforme já se manifestou o E. STJ, o tempo decorrente entre a notificação do lançamento fiscal e a decisão final da impugnação ou do recurso administrativo corre contra o contribuinte que, mantida a exigência fazendária, responderá pelo débito originário acrescido dos juros e da correção monetária”, e “Não obstante o crédito tributário esteja constituído, apresentada impugnação na via administrativa, o crédito não pode ser cobrado, restando suspensa a exigibilidade (art. 151, inc. III, do CTN), razão pela qual também não se pode cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente” (grifo dos colunistas).
Na via administrativa, não há registro de precedente aplicando a Lei 9.873 a penalidades aduaneiras até a segunda década deste século. Como se atesta em estudo anterior [6], o posicionamento sobre o tema era unânime em todas as turmas do Carf, mesmo antes da Súmula Carf 11. Aliás, em dois dos precedentes que deram origem a tal súmula se destaca que o texto deriva da reiterada jurisprudência de todos os três conselhos (Ac. 203-02.815 e Ac. 202-07.929).
Na doutrina, a única menção ao tema antes de 2021 é em obra de Jorge Abud [7]. Na legislação aduaneira, nem o Regulamento Aduaneiro de 2002 (Decreto 4.543) nem o Regulamento Aduaneiro atual, de 2009 (Decreto 6.759) sequer cogitaram mencionar a Lei 9.873/1999, e o prazo de três anos nela estabelecido para “prescrição intercorrente” jamais foi tomado como parâmetro para a gestão de acervo de qualquer tribunal administrativo (ou mesmo judicial) aduaneiro.
A aplicação do entendimento agora fixado pelo STJ a casos que antecedem qualquer sinalização de que isto poderia acontecer é ainda agravada pelas consequências (externalidades) da decisão. Ainda que a tese fixada remeta só ao artigo 1º, § 1º, da Lei 9.873/1999, e à restrição do artigo 5º da mesma lei, resulta incoerente imaginar que as demais disposições de tal lei não se apliquem a infrações administrativas não tributárias (sejam elas aduaneiras ou não), pois o Direito, como ensina Eros Grau, não se interpreta em tiras [8]. Mesmo no próprio § 1º, a parte final do texto demandaria, em caso de aplicação retroativa do decidido pelo STJ, investigação de quem deu causa a cada uma das “prescrições intercorrentes” (no caso, penalidade com feições de infração hermenêutica). Que dizer, então do § 2º do mesmo artigo 1º, da Lei 9.873, que trata de infrações que também constituam crimes, ou do caput do artigo 1º, que conflita com o artigo 139 do Decreto-lei 37/1966, aplicado assentada e unanimemente pelo Carf e pelo próprio STJ (v.g., no REsp 1253246/CE). Seria a vedação do artigo 5º da Lei 9.873/1999 aplicável só ao artigo 1º, § 1º?
O novo entendimento fixado pelo STJ em 2025 sobre uma norma de 1999, a partir de julgados de 2023/2024, em sentido oposto ao que antes decidia reiteradamente o Poder Judiciário (incluído o próprio STJ), e a Administração, faz com que sejam canceladas autuações legitimamente efetuadas a seu tempo, quando não havia controvérsia de que o termo “tributário” abrangia o “aduaneiro” [9]. E indicam, para o futuro, um cenário em que os autuados possam passar a apostar na inércia dos órgãos julgadores administrativos, com boas chances de êxito, tendo em conta que os processos administrativos no rito do Decreto 70.235/1972 (sejam eles aduaneiros ou não), em média, tardam mais de três anos para serem julgados tanto nas DRJ quanto no Carf [x].
Bom para a justiça?
John Rawls oferece um interessante artifício na busca pela justiça: o véu da ignorância, que nos remete à condição original de igualdade, eliminando a possibilidade de que alguém seja favorecido pelo resultado ou por sua condição [11].
Recomendamos a quem hoje comemora a decisão no Tema 1.293 o exercício proposto por Rawls. Imagine que você não fosse ganhar (ou perder) nenhum dinheiro ou benefício com a decisão do STJ. Como você encararia cada uma das questões propostas neste artigo?
Vá com calma. Se você respondeu rápido essa questão, ou qualquer outra feita ao longo desta coluna, sem ponderar detidamente os argumentos (talvez porque já tinha a resposta pronta antes mesmo das perguntas!), provavelmente nem deu tempo de vestir o véu.
Perceba que não respondemos objetivamente, com sim ou não, em caráter conclusivo, nenhuma das questões. Só apresentamos argumentos para a reflexão.
Sempre duvide de quem tem certezas!
De fato, a depender do referencial que guie nossos passos, bom para a gripe é andar na chuva sem camisa!
[1] O presente artigo, tendo em conta a limitação de caracteres imposta a esta coluna, traz apenas uma reflexão inicial, sobre ideias que serão debatidas mais profundamente em estudo específico.
[2] Aqui, na coluna Território Aduaneiro, ver: “Prescrição intercorrente e infrações aduaneiras: o tempo é o senhor da razão” (Fernando Pieri e Pedro Mineiro), coluna de 25/03/2025 (disponível em: https://www.conjur.com.br/2025-mar-25/prescricao-intercorrente-e-infracoes-aduaneiras-o-tempo-e-o-senhor-da-razao/); e “Prescrição intercorrente e aduana: “Back to the future” (partes 1, 2 e 3)” (Rosaldo Trevisan), colunas de 28/02, 04/04, e 09/03/2023 (disponíveis, respectivamente, em: https://www.conjur.com.br/2023-fev-28/artx-territorio-aduaneiro-prescricao-intercorrente-aduana-back-to-the-future-parte/, https://www.conjur.com.br/2023-abr-4/territorio-aduaneiro-prescricao-intercorrente-aduana-back-to-the-future-parte-2/ e https://www.conjur.com.br/2023-mai-09/territorio-aduaneiro-prescricao-intercorrente-aduana-back-to-the-future-parte/).
[3] REsp 1999532 / RJ, de 09/05/2023; AgInt no REsp 2101253 / SP, de 11/12/2023; AgInt no REsp 2119096 / SP, de 08/04/2024; e AgInt no REsp 2148053 / RJ, de 16/09/2024, todos da Primeira Turma e de relatoria da Min. Regina Helena Costa.
[4] Aqui um primeiro efeito colateral da decisão. Ao que parece, multas por descumprimento de “obrigação acessória” tributária teriam “natureza tributária” apenas se destinadas “direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização” de tributos. Seria interessante testar essa delimitação restritiva (diga-se, bem mais restritiva que os precedentes que lhe deram origem no STJ) com as próprias obrigações acessórias tributárias em matéria não aduaneira.
[5] Para uma visão integral do universo de 175 infrações e penalidades aduaneiras, no Brasil, remete-se a: TREVISAN, Rosaldo. Uma contribuição à visão integral do universo de infrações e penalidades aduaneiras no Brasil, na busca pela sistematização. In: TREVISAN, Rosaldo (org.). Temas Atuais de Direito Aduaneiro III. São Paulo: Aduaneiras, 2022, p. 571-630. Sobre a pena de perdimento, remete-se ainda a: BRUYN JÚNIOR, Herbert Cornélio Pieter de. Direito Aduaneiro: pena de perdimento. v. 2. Curitiba: Juruá, 2019; a FAZOLO. Diogo Bianchi. Infrações Aduaneiras à luz do Direito Aduaneiro Internacional. São Paulo: Caput Libris, 2024; e a SEHN. Solon. Curso de Direito Aduaneiro. 3. Ed. .Rio de Janeiro: Forense, 2025, p. 583-627.
[6] “Prescrição intercorrente e aduana: “Back to the future” (parte 1)” (Rosaldo Trevisan), coluna de 28/02/2023 (disponível em: https://www.conjur.com.br/2023-fev-28/artx-territorio-aduaneiro-prescricao-intercorrente-aduana-back-to-the-future-parte/). Entre os julgados unânimes, destacamos em tal artigo acórdãos com votos de praticamente todos os Conselheiros do CARF, inclusive de quem a partir de 2021 passou a defender posicionamento diverso.
[7] ABUD, Jorge Lima. A prescrição da pena de perdimento em operações de comércio exterior. Clube de Autores. E-book. 2014.
[8] GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/Aplicação do Direito. 3. Ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 40.
[9] Aliás, o julgado do STJ sequer dá pistas de quando o termo “aduaneiro”, na legislação, passou a estar fora do universo “tributário”. O excerto que mais perto chega disso está no voto-vogal do Min. Afrânio Vilela, que remete a uma distinção entre Direito Aduaneiro e Direito Tributário que teria sido feita pela Fazenda Nacional em Parecer, sobre a interpretação do polêmico (e já revogado) critério de desempate de julgamento estabelecido em 2020, na nova redação dada ao art. 19-E da Lei 10.522.
[10] As estatísticas são tristes, mas reais, tanto administrativa quanto judicialmente. Trata-se do tema, com dados, em “Lei nº 14.689/2023: o que queremos? (versão aduaneira)” (Rosaldo Trevisan), coluna de 26/09/2023 (disponível em: https://www.conjur.com.br/2023-set-26/territorio-aduaneiro-lei-146892023-queremos-versao-aduaneira/). Tem-se, com a decisão do STJ, mais um tema a repensar na revisão do contencioso administrativo.
[11] RAWLS, John.. Uma teoria da justiça. Trad. Almiro Pisetta e Lenita M.R. Esteves. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 12-13.
—
O post Tema STJ 1.293 — bom para quem? apareceu primeiro em Consultor Jurídico.