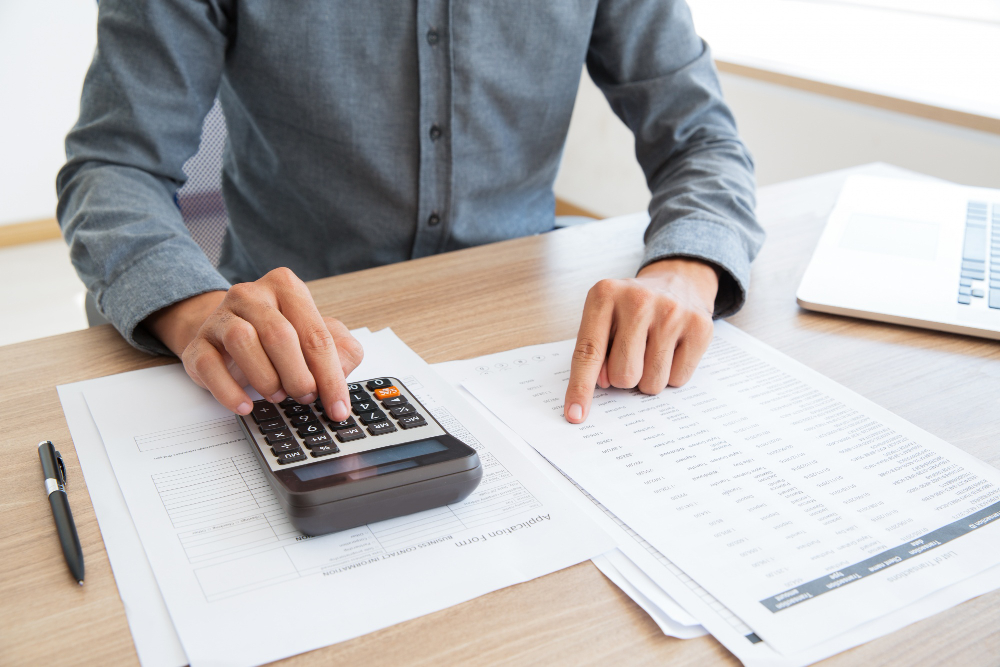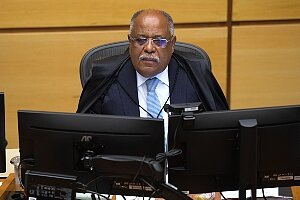Talvez uma das maiores confusões já criadas em matéria tributária, nos últimos tempos, esteja vinculada às subvenções, instituto desde há muito utilizado pelo Direito brasileiro que se tornou notícia constante de jornal e objeto de muitos debates, tendo o atual governo, como meta, pelo que se depreende de atos normativo recém publicados, alterá-la, no que se refere a seus efeitos para fins de Imposto sobre a Renda (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro (CSL), impulsionado pelo interesse em aumentar a arrecadação em curto prazo. Para examinar o caos que hoje impera nessa matéria, vale repassar seu histórico, de forma breve, tendo em conta a importância que as subvenções públicas tiveram e seguem tendo no desenvolvimento de certas regiões do país.
Do ponto de vista do poder público, a Lei nº 4.320/64 trata dos orçamentos e balanços dos entes federados, estando as subvenções inseridas na rubrica de despesas, mais especificamente nas transferências de recursos, no caso, para os particulares, observadas as condições dispostas em lei que deve precedê-las. Por oportuno, hoje existe um Projeto de Lei Complementar do Senado, de nº 229/2016, que objetiva revogar a Lei nº 4.320/64, bem como alterar a Lei Complementar nº 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, que aborda a renúncia fiscal (subvenção) em suas várias formas.
Para fins tributários a Lei nº 4.506/64, lei básica do IRPJ, a despeito de hoje bastante alterada, dispõe sobre as subvenções para custeio, cuja principal finalidade é gerar capital de giro para os seus beneficiários, as quais, sob o regime desse diploma legal são tributáveis. O Decreto-Lei nº 1.598/77, adaptando a legislação do IRPJ à Lei nº 6.404/76, nova lei societária, excluiu do lucro real, as subvenções concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, bem como as doações do poder público, desde que registradas como reserva de capital que somente poderia ser utilizada para absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social. Essa regra contábil voltada a subvenções, integra o Capítulo XV, da Lei nº 6.404/76, que contempla disposições voltadas às demonstrações financeiras e à escrituração contábil das sociedades.
A despeito de o tratamento das subvenções estar consolidado para fins de IRPJ e de CSL, certas subvenções estaduais, de ICMS, sempre estiveram sob o crivo do Fisco federal sob o argumento de não atenderem os requisitos mínimos para se enquadrarem como subvenções para investimento e estarem, por isso, submetidas à tributação. Ao mesmo tempo, diversas dessas subvenções estaduais geraram um grande contencioso, que chegou ao Supremo Tribunal Federal, já que haviam sido instituídas pelos Estados e pelo Distrito Federal sem a observância das condições exigidas pela Lei Complementar nº 24/75 que até hoje regula a matéria.
Em fins de 2007, com a edição da Lei nº 11.638/07, comemorou-se a reforma do Capítulo XV, da Lei nº 6.404/76, com a adoção das práticas internacionais de contabilidade, os International Financial Reporting Standards (IFRS), utilizadas nos principais mercados mundiais. Tais práticas foram pensadas para demonstrações financeiras consolidadas de grupos econômicos, diversamente do que ocorreu no Brasil, que as adotou para os balanços individuais. Os dois grandes pilares dos IFRS são a prevalência da essência econômica sobre a forma, no trato dos negócios, ou o que as partes desejaram do ponto de vista econômico a despeito de sua formulação jurídica, e o valor justo de ativos e passivos, ou seja, o preço que seria recebido pela venda de ativo ou transferência do passivo em transação entre participantes do mercado, na data de mensuração. O fato é que para os contadores brasileiros, especialmente aqueles que sempre incentivaram a adoção dos IFRS, obrigar o uso de tais práticas no balanço individual parecia ser uma decorrência natural do fato de que se tais novos conceitos eram bons para os balanços consolidados, objeto de aplicação dos IFRS em todo o mundo, também o seriam para os balanços individuais, o que se mostrou um grande equívoco.
Dentre outros frutos da adoção dos novos padrões contábeis, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), entidade não personificada voltada ao seu estudo e divulgação no Brasil, editou o Pronunciamento CPC 07 (R1), para tratar das subvenções, sejam para investimento, sejam para custeio. Ambas são consideradas, contabilmente, como atos benéficos por parte do poder público, razão pela qual devem ser reconhecidas como receitas na demonstração do resultado do exercício e não mais diretamente em patrimônio líquido, como reserva de capital, visto que o patrimônio líquido somente pode contemplar verbas oriundas ou destinadas dos/aos sócios, hipóteses em que a subvenção não se enquadra.
Como no Brasil a apuração do IRPJ e da CSL partem da contabilidade para determinar suas bases, com o fito de evitar que a mudança dos métodos e critérios contábeis afetasse o cálculo desses tributos, a Exposição de Motivos da Lei nº 11.638/07 asseverou que os IFRS seriam neutros, do ponto de vista tributário, visto que não afetariam a carga tributária das empresas a elas submetidas, bem como não afetariam as perspectivas de arrecadação. Nesse sentido foi editada a Leis nº 12.973/14, que adaptou a legislação tributária federal às novas normas contábeis, incorporando, porém, em algumas situações essas práticas, como é o caso das subvenções, quaisquer que sejam, que passaram a ser registradas em conta de resultado.
Em resumo, os IFRS passaram a tratar as subvenções como lucro, já que não decorrem de aportes dos sócios, dispondo a Lei nº 12.973 que as subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não seriam computadas na determinação do lucro real, desde que registradas em reserva de incentivos fiscais, que tem a natureza de reserva de lucros, permitindo-se seu uso apenas para absorção de prejuízos e aumento do capital, observadas as demais disposições legais aplicáveis.
Por fim, o ambiente das subvenções foi novamente atropelado pela Lei Complementar nº 160/17 que, objetivando pôr termo à guerra fiscal entre Estados, foi além, equiparando as subvenções de ICMS enquadradas como subvenções para custeio, a subvenções para investimentos.
A possibilidade de excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSL, já vinha sendo examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, que entendeu aplicar-se, dentre todos, apenas aos créditos presumidos outorgados, a não incidência desses tributos sob pena de ofensa ao pacto federativo, por subtrair parcela da competência tributária dos estados (EREsp 1.517.492/PR). Nessa linha, no julgamento do Tema Repetitivo 1.182, o STJ chegou a dois diferentes entendimentos: (1) a concessão de créditos presumidos de ICMS não admite a tributação pelo IRPJ e pela CSL, por ofensa ao pacto federativo, sendo, nesse caso, desnecessário cumprir qualquer outro requisito adicional e (2) outros benefícios de ICMS (isenção, redução de base de cálculo, diferimento, etc.) equiparados pela Lei Complementar nº 160/17 a subvenções para investimentos, para escaparem à incidência desses tributos, exigiriam o registro dos valores em reserva de incentivos e a sua não distribuição aos sócios.
Nesse conjunto de fatos, o primeiro aspecto a ser comentado, é a mudança de procedimento contábil, do registro em reserva de capital em contrapartida de contas de ativo que representam investimentos, para o registro de uma receita oriunda de benefício fiscal, a ser apropriada como lucro. Ao abandonar o registro em reserva de capital exige-se o trânsito em resultado dos recursos, para futura apropriação, retirando a esses recursos a barreira inicialmente criada pela destinação única e exclusiva para aumento de capital, conquanto a lei, ao final, exija prova de tal alocação, para usufruto do benefício. Embora a leitura do fenômeno econômico da subvenção sob as lentes da nova contabilidade possa trazer maior precisão às demonstrações consolidadas, mostrando que os recursos não se originam nos sócios, nada acrescentam às demonstrações individuais, exceto criar obrigações acessórias e aumentar o risco de questionamento.
A Lei Complementar nº 101/00 trata como renúncia fiscal todos os incentivos, o que inclui, também, créditos presumidos e isenções. Considerando-se esse fato, o que justificaria, sob a ótica do STJ, que créditos presumidos, “grandezas positivas” estejam submetidos ao chamado pacto federativo, para fins de afastar sua tributação e os demais benefícios não recebam esse tratamento, sob o argumento de se tratarem de “grandezas negativas”? Destaque-se que a recomendação contábil, CPC 07(R1), é no sentido de os incentivos tributários, sob a forma de isenção ou redução, sejam registrados a partir do registro do imposto total, no resultado, como se devido fosse, em contrapartida à receita de subvenção equivalente, a serem demonstrados um deduzido do outro.
O uso dessas expressões, não devidamente elaboradas pelo STJ, já foi bastante questionado por muitos autores que o atribuem à Contabilidade, o que não está correto, pois o conceito de “grandeza” é desenvolvido pela Matemática, sendo que para fins matemáticos grandeza é todo o valor ou medida (comprimento, volume, etc.) atribuídos a um objeto matemático e que a grandeza negativa é oposição e não negação ou ausência, como é o caso dos chamados números relativos (positivos e negativos). O tema das “grandezas” é muito complexo, evidenciando-se, apenas, que o seu empréstimo da Matemática pode não ser o melhor caminho para tratar do assunto.
Na distinção trazida entre créditos presumidos e isenções, pelo STJ, os seguintes aspectos não podem ser olvidados: (1) crédito presumido e isenção são ambos tratados como renúncia fiscal pela Lei Complementar nº 101/00 e (2) créditos presumidos e isenções devem transitar pela conta de resultado/lucro, não submetidos à incidência do IRPJ e da CSL. Logo, o que justifica a distinção trazida pelo STJ para tratar apenas os créditos presumidos sob o enfoque do pacto federativo? É fato inconteste que esses benefícios são capazes de gerar os mesmos resultados econômicos para os seus beneficiários, riqueza correspondente ao tributo que deixa de onerar a operação ou crédito que protege uma desoneração.
O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público [1], baseado nas regras dos IFRS aplicáveis às entidades vinculadas ao Estado, contempla definições que interessam à questão sob debate, como é o caso do crédito presumido tratado como valor que representa o montante do imposto cobrado na operação anterior, objetivando “neutralizar” o efeito de recuperação dos impostos não cumulativos, pelo qual o Estado se apropria do valor da isenção nas etapas subsequentes da circulação da mercadoria. Ainda, de acordo com o manual, é permitido registrar a renúncia representada por reduções e isenções de forma “resumida”, por efeitos líquidos ou desdobrada (receita e despesa com tributos). A contabilidade pública adota a mesma terminologia do CPC 07 (R1) designando a isenção como dispensa de pagamento, adotada nos primórdios de nosso CTN e pelo STF, depois contraposta por novas correntes doutrinárias sem que, até o momento, o STF tenha decidido tal matéria [2].
Muitos atribuem à Contabilidade ter “ressuscitado” esse tema na tentativa de registrar o tributo como despesa e dessa forma, quando não efetivamente liquidado, por força da “dispensa legal”, gerar um crédito a ser tratado como subvenção. Essa afirmativa não nos parece verdadeira, de vez que o artigo 175 do CTN mantém por inteiro seu conteúdo e a expressão “exclusão do crédito tributário” para categorizar a isenção.
Com isso, dados os diversos pontos de identidade entre créditos presumidos e isenções, entendemos que nasce um caminho de debate junto ao STF para isenções/reduções de base de cálculo sob o enfoque do pacto federativo.
Por fim, no imbróglio tributário em que as subvenções acabaram sendo envolvidas, o Poder Executivo editou, à luz do decidido pelo STJ, a Medida Provisória nº 1.185/23, alterando os critérios de aproveitamento das subvenções para investimento. De acordo com essa MP, os beneficiários de subvenções para investimento não mais as excluirão à tributação, mas farão jus a crédito fiscal calculado à razão de 25% sobre as receitas de subvenção relacionadas a tais objetivos, reconhecidas após a conclusão da implantação/expansão do empreendimento, observadas as exigências legais. Ao limitar o crédito tributário a 25% das receitas de subvenção, por óbvio que se está pretendendo que tais receitas sejam tributadas pelas contribuições sociais devidas ao Programa de Integração Social (PIS) e para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), conquanto a receita de subvenção não se caracterize como fruto de atividade operacional, na forma da lei.
Esse tema, ultrapassado desde a edição da Lei 12.973/14, que dispõe que as receitas de subvenções para investimento não se submetem a tais onerações, nesse contexto, pode retornar. Conquanto a MP ainda esteja sob debate no Congresso, o Poder Executivo encaminhou à Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei nº 5.129/23 que dispõe sobre o crédito fiscal decorrente de subvenção para a implantação/expansão de empreendimento econômico, tratado na já referida MP. Talvez o principal objetivo seja manter a matéria em pauta no Congresso, porque as MPs têm prazo de vigência para exame e ultrapassado esse prazo, o tema seguiria examinado sob a forma de PL. Essa cautela no trato da matéria, por parte do Executivo, evidencia o quão importante ele é do ponto de vista da arrecadação e essa é a mensagem que o ministro da Fazenda, diariamente, nos passa em todos os órgãos de imprensa conclamando o Congresso a aprovar a dita MP, sob pena de um desastre fiscal.
Esse açodamento com vistas à arrecadação só se presta à elaboração de leis questionáveis, aumentando a litigiosidade e afastando, cada vez mais, o interesse dos investidores. Tenhamos cautela com as subvenções.
[1] https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO:41943
[2] Sobre o tema veja-se o lúcido artigo de Sergio André Rocha, “Afinal, isenções tributárias são ‘grandezas negativas’?”, in ConjJur, Justiça Tributária, de 5/6/2023.
Fonte: Conjur