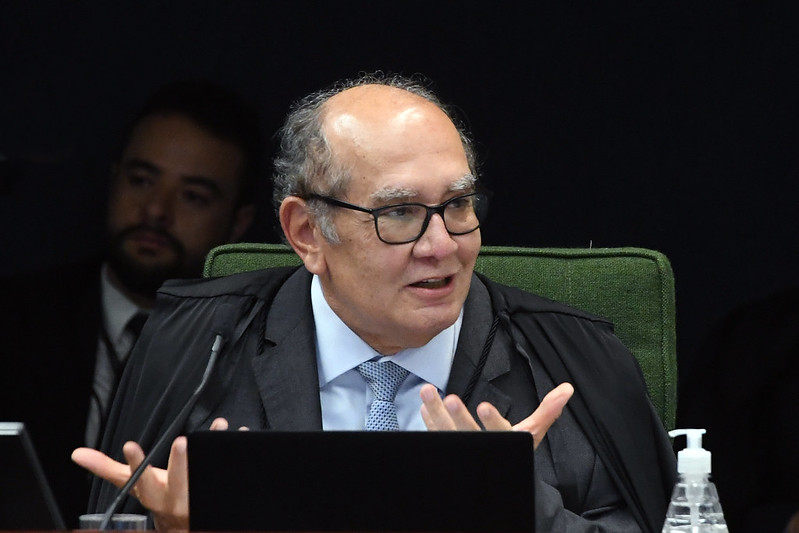Como se sabe, por muitas vezes, um dos grandes entraves processuais diz respeito à citação do devedor, seja na fase de conhecimento, seja na fase de cumprimento de sentença. Dito isso, considerando as diversas inovações tecnológicas hoje existentes, pergunta-se: é possível realizar a citação do devedor por meio de trocas de mensagens em suas redes sociais? Qual é o entendimento dos tribunais sobre este assunto? E, mais, existe alguma norma expressa que autorize tal procedimento?
Esse interessante debate já foi levado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) que negou provimento ao recurso de uma credora que cogitava que a citação do devedor fosse realizada através das redes sociais, haja vista o embaraço de localizá-lo pessoalmente [1].
Na ocasião, o colegiado entendeu que, nada obstante o ato pudesse ser convalidado na hipótese de atingir a sua finalidade, contudo, em razão da ausência de previsão legal específica teria vício de forma, e, por conseguinte nulidade processual.
Em seu voto, a ministra relatora ponderou [2]:
“(…) a identificação e a localização de uma parte com um perfil em rede social é uma tarefa extremamente complexa e incerta. Para ficar apenas nos exemplos de questões problemáticas a respeito da possibilidade aventada pela recorrente, para além da falta de autorização legal, estão a existência de homônimos, a existência de perfis falsos e a facilidade com que esses perfis podem ser criados, inclusive sem vínculo com dados básicos de identificação das pessoas, bem como a incerteza a respeito da entrega e efetivo recebimento do mandado de citação nos canais de mensagens criados pelas plataformas que poderiam, em tese, corroborar a ciência inequívoca sobre o ato citatório.”
Por certo, o tema é bastante atual e polêmico, tanto que o assunto foi indicado por você, leitor(a), para o artigo da semana na coluna Prática Trabalhista, desta ConJur [3], razão pela qual agradecemos o contato.
Do ponto de vista normativo, de um lado, o Código de Processo Civil (CPC) dispõe, em seu artigo 239 [4], que a citação é indispensável para a validade do processo; lado outro, o artigo 256 [5] do mesmo diploma legal traz um regramento especial para a citação por edital nas circunstâncias em que não for possível a localização do devedor após o perecimento de todas as diligências para a sua localização.
De outro norte, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) aborda a citação na fase de conhecimento em seu artigo 841 [6], ao passo que o artigo 880 [7] celetário trata da citação na fase executiva, de modo que também faz menção à citação por edital em caso de não localização do devedor.
Nesse sentido, oportunos são os ensinamentos de Élisson Miessa a respeito da importância da citação no processo do trabalho[8]:
“Trata-se, portanto, de pressuposto processual intrínseco, pois analisado na própria relação processual e de validade do processo.
O entendimento majoritário da doutrina é de que o vício neste ato processual gera nulidade absoluta sui generis, que excepcionalmente não se convalida com o trânsito em julgado, podendo ser alegado, inclusive, após o prazo da ação rescisória, por meio da ação de querela nullitatis. Isto quer dizer que se trata de vício que não será convalidado, salvo quando o pedido do autor for julgado improcedente, pois, nesse caso, não haverá anulação do processo.”
Se é verdade que a lei possibilita que a citação seja realizada por meio digital[9], ou seja, através de um endereço eletrônico válido, de igual modo é prudente ressaltar que nem sempre o perfil de uma pessoa que esteja disponível nas redes sociais é de fato verdadeiro.
Bem por isso, não é raro nos depararmos com diversas fraudes e golpes aplicados nos dias de hoje, tanto em aplicativos de conversas, quanto em redes sociais. Aliás, uma pesquisa realizada em 2022 revelou que as tentativas de fraudes digitais no país cresceram 20% no segundo trimestre em comparação ao mesmo período de 2021 [10].
A propósito, recentemente o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) realizou uma postagem em seu site alertando as pessoas sobre os golpes aplicados por quadrilhas especializadas através de telefonemas, mensagens por aplicativo, cartas, entre outros[11]. No mesmo sentido foi a postagem feita pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 14ª Região alertando sobre as tentativas de golpes[12].
Contudo, verifica-se que, na prática, a questão envolvendo a declaração da validade da citação por meio de aplicativos não é pacífica na Justiça do Trabalho.
Com efeito, o TRT da 4ª Região manteve num caso concreto os efeitos da revelia e da confissão aplicados ao proprietário de um mercado que havia sido citado por WhatsApp[13]. Frise-se, por oportuno, que, para a validação da citação, fora informado nos autos que houve a certificação pelo oficial de justiça por telefone.
Já em sentido contrário, o TRT da 18ª Região entendeu que a intimação por meio de WhatsApp ou e-mail de pessoa jurídica que não integra a lide, e tampouco detém cadastro para fins de recebimento de comunicação processual eletrônica, afronta o princípio da segurança jurídica [14].
A partir de tal cenário, percebe-se que é fundamental um olhar mais cauteloso e de maior prudência em se tratando de citação por meio de redes sociais. Isto porque, para além de não haver legislação expressa disciplinando o assunto, tem-se visto atualmente a prática de inúmeras fraudes e golpes virtuais, inclusive por pessoas se utilizam de perfis falsos.
Em arremate, não há que se confundir a correta citação feita por meio eletrônico, que é aquela cadastrada pela parte nos sistemas oficiais do Poder Judiciário, com aquela tentativa de citação realizada em páginas de redes sociais. A não observância de tal cuidado pode acarretar nulidade processual, e, via de consequência, em transtornos a todos os envolvidos no processo, principalmente para a máquina judiciária e aos jurisdicionados.
[1] Disponível em https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/28082023-Dificuldade-de-encontrar-o-reu-nao-justifica-citacao-por-meio-de-redes-sociais.aspx. Acesso em 11.9.2023.
[2] Disponível em https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=2327130&num_registro=202201480332&data=20230814&formato=PDF&_gl=1*7uk0fa*_ga*ODI0OTE5NzU0LjE2OTA5MDUyMjE.*_ga_F31N0L6Z6D*MTY5NDQ4Mjg1My40LjEuMTY5NDQ4MzQ2MS41OS4wLjA. Acesso em 11.9.2023.
[3] Se você deseja que algum tema em especial seja objeto de análise pela coluna Prática Trabalhista, entre em contato diretamente com os colunistas e traga sua sugestão para a próxima semana.
[4] Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.
[5] Art. 256. A citação por edital será feita: I – quando desconhecido ou incerto o citando; II – quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III – nos casos expressos em lei. § 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. § 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
[6] Art. 841 – Recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou secretário, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, remeterá a segunda via da petição, ou do termo, ao reclamado, notificando-o ao mesmo tempo, para comparecer à audiência do julgamento, que será a primeira desimpedida, depois de 5 (cinco) dias. § 1º – A notificação será feita em registro postal com franquia. Se o reclamado criar embaraços ao seu recebimento ou não for encontrado, far-se-á a notificação por edital, inserto no jornal oficial ou no que publicar o expediente forense, ou, na falta, afixado na sede da Junta ou Juízo. § 2º – O reclamante será notificado no ato da apresentação da reclamação ou na forma do parágrafo anterior. § 3o Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação.
[7] Art. 880. Requerida a execução, o juiz ou presidente do tribunal mandará expedir mandado de citação do executado, a fim de que cumpra a decisão ou o acordo no prazo, pelo modo e sob as cominações estabelecidas ou, quando se tratar de pagamento em dinheiro, inclusive de contribuições sociais devidas à União, para que o faça em 48 (quarenta e oito) horas ou garanta a execução, sob pena de penhora. § 1º – O mandado de citação deverá conter a decisão exeqüenda ou o termo de acordo não cumprido. § 2º – A citação será feita pelos oficiais de diligência. § 3º – Se o executado, procurado por 2 (duas) vezes no espaço de 48 (quarenta e oito) horas, não for encontrado, far-se-á citação por edital, publicado no jornal oficial ou, na falta deste, afixado na sede da Junta ou Juízo, durante 5 (cinco) dias.
[8] Curso de Direito Processual do Trabalho – 8. Ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2021. Página 303.
[9] Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.
[10] Disponível em https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2022/10/11/tentativas-de-golpes-por-meios-digitais-cresceram-20percent-no-segundo-trimestre-deste-ano-no-brasil.ghtml. Acesso em 11.9.2023.
[11]Disponível em https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=94809. Acesso em 11.9.2023.
[12]Disponível em https://portal.trt14.jus.br/portal/noticias/trt-14-alerta-sobre-tentativas-de-golpe. Acesso em 12.9.2023.
[13] Disponível em https://www.trt4.jus.br/portais/trt4/modulos/noticias/557424. Acesso em 12.9.2023.
[14] Disponível em https://www.trt18.jus.br/portal/turma-nega-intimacao-por-whatsapp-de-empregadora-de-devedor-trabalhista/. Acesso em 12.9.2023.
Fonte: Conjur