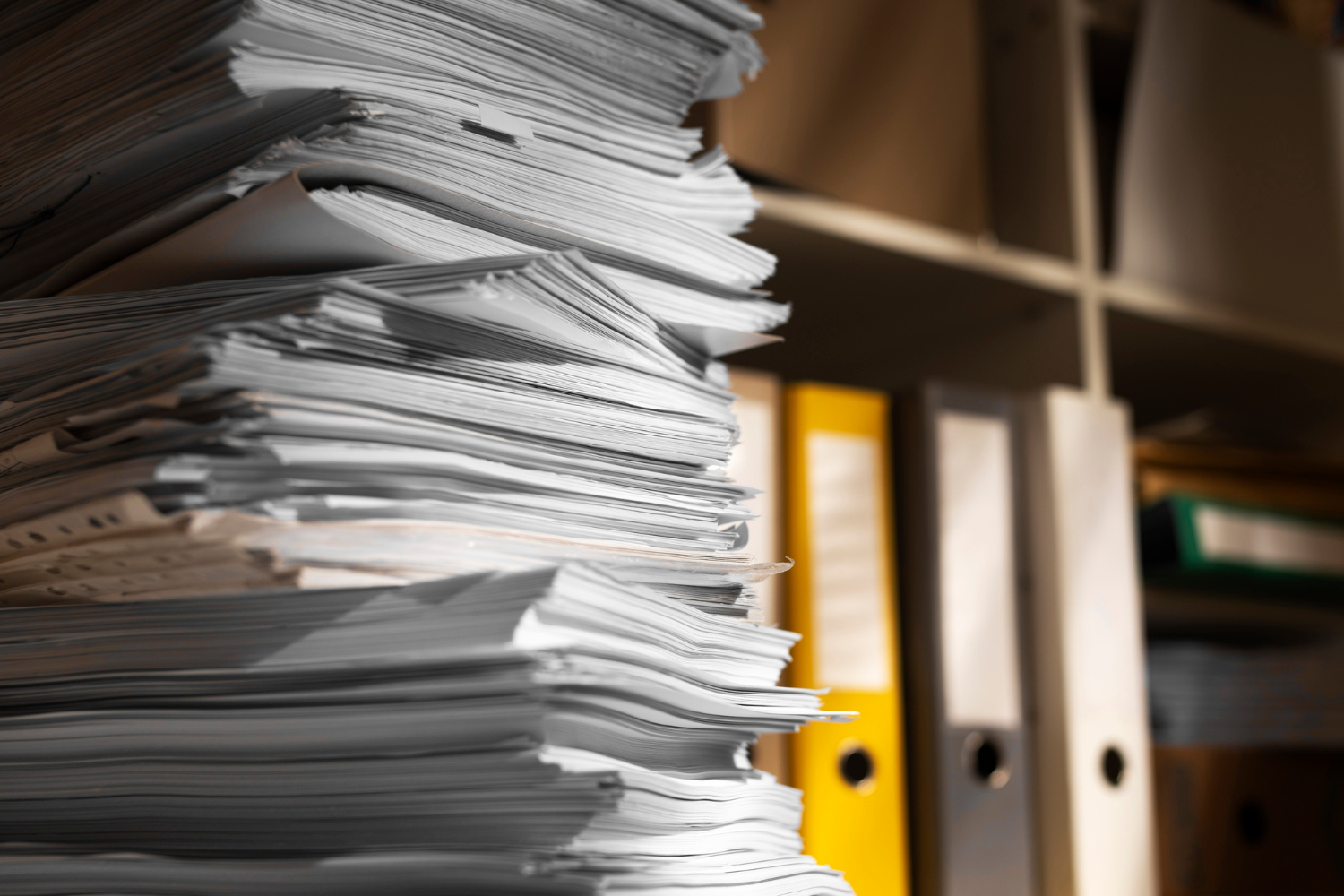Em 2024, o Supremo Tribunal Federal julgou relevantes questões tributárias. A seguir analisaremos algumas dessas decisões com destaque para a — ainda — necessária padronização dos critérios de modulação de efeitos no tribunal.
Em fevereiro, o STF declarou inconstitucional adicional de 0,2% sobre operações interestaduais e de exportação de produtos de origem vegetal, mineral ou animal, destinado ao Fundo Estadual de Transporte (FET), estabelecido por Tocantins. Apesar da alegação do Estado de que o adicional seria um preço público pelo uso de rodovias, concluiu-se que a cobrança tinha natureza de imposto, com base de cálculo e fato gerador idênticos ao ICMS, o que violava o artigo 155 da Constituição (ADI 6.365).
A instituição de adicionais ou contribuições destinados a fundos estaduais tendo as mesmas características de impostos existentes é, de fato, inconstitucional. A questão, no entanto, permanece em aberto, em razão do artigo 136 do ADCT, introduzido pela recente reforma tributária (EC 132/23), que buscou constitucionalizar essas cobranças. Embora o STF tenha afirmado o prejuízo de algumas ações diretas que discutem tais contribuições em razão da aludida “modificação no contexto dos parâmetros de controle” (ADIs 7.363 e 6.420), o tribunal pode vir a ser demandado em relação à própria constitucionalidade da referida disposição transitória.
Em março, o STF declarou parcialmente inconstitucionais taxas municipais relacionadas ao Corpo de Bombeiros, ao fundamento de que os serviços de combate a incêndios são indivisíveis e, portanto, não passíveis de tributação por taxa (ADPF 1.030). O entendimento segue a posição histórica fixada pela corte na ADI 4.411.
Em abril, a corte concluiu o julgamento da eficácia temporal das decisões do tribunal sobre a coisa julgada em relações tributárias de trato sucessivo (Temas 881 e 885). Prevaleceu a tese do ministro André Mendonça, segundo a qual os efeitos da decisão seriam modulados apenas para afastar as multas impostas aos contribuintes que deixaram de recolher a CSLL por possuírem coisa julgada, vedada a restituição de valores.
Apesar disso, a não concessão de efeitos prospectivos contrariou a segurança jurídica, pois criou passivos até então inexistentes, inclusive em relação a tributos que não estavam em discussão no caso concreto, e gerou assimetrias quanto ao tratamento concedido à Fazenda Pública e aos contribuintes em casos de modulação de efeitos. Basta rememorar que, no julgamento do tema 69, o STF modulou a decisão em favor da Fazenda em razão de julgamento repetitivo do STJ, o que, nada obstante também existente nos casos dos temas 881 e 885, não foi suficiente para o tribunal aplicar ao caso a mesma ratio decidendi.
No mesmo mês, o STF declarou constitucional a incidência do PIS/Cofins sobre receitas de locação (Temas 630 e 684). Mesmo não havendo prestação de serviço clássico ou venda de mercadoria, considerou-se que a locação integraria o conceito de faturamento e o pedido de modulação foi negado, dado o suposto entendimento consolidado sobre o tema.
Ocorre que o julgamento do Tema 372, em 2023, inovou ao expandir o conceito de faturamento para além da receita com vendas ou prestação de serviços. Como os embargos de declaração lá aviados não foram apreciados, a modulação poderia ter sido concedida ou o julgamento, no mínimo, sobrestado até a finalização do tema 372 por uma questão de segurança jurídica.
Em maio, o STF declarou a constitucionalidade da incidência de ICMS sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal por via marítima (ADI 2.779), o que encerra disputa histórica.
Em junho, o STF atribuiu eficácia prospectiva à decisão que julgou constitucional a incidência de contribuição sobre o terço constitucional de férias (Tema 985). Trata-se de importante modulação realizada em prol dos contribuintes em função de ter havido posição do STJ, em precedente repetitivo, favorável à não incidência das contribuições.
O fundamento adotado é coerente com o que fora utilizado na modulação da chamada “tese do século” (PIS/Cofins sobre ICMS), naquela ocasião em favor do Fisco, porém divergente com o supracitado caso relacionado à coisa julgada nas relações de trato sucessivo, disparidade que exige atenção do Tribunal para a aplicação dos mesmos critérios de modulação de efeitos em casos similares. Além disso, chamou a atenção neste julgamento a discussão lateral sobre a possibilidade de o STF mudar, no futuro, o marco temporal das modulações para a data de reconhecimento da repercussão geral.
No mesmo mês, o STF reafirmou a validade dos adicionais de ICMS instituídos pelos estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate e Erradicação da Pobreza, conforme o artigo 4º da EC 42/2003 (Tema 1.305) e referendou a cautelar concedida na ADI 7.370, que questiona as hipóteses de exclusão de contribuintes do Refis devido a parcelas mensais consideradas ínfimas pela Receita. Quanto ao último processo, a Corte confirmou a cautelar para determinar tanto a vedação da exclusão de contribuintes adimplentes e de boa-fé que seguiram as regras do programa, quanto a reinclusão daqueles excluídos injustamente até o julgamento de mérito, o que preserva a segurança jurídica.
Em agosto, o STF assentou que “É infraconstitucional a controvérsia sobre a incidência de PIS e Cofins sobre juros de mora e correção monetária (taxa Selic) recebidos em repetição de indébito tributário” (Tema 1.314). A Primeira Seção do STJ já havia definido, no Tema Repetitivo 1.237, a incidência do PIS/Cofins sobre tais valores.
A posição do STF surpreende por contrariar os Temas 808 e 962, em que a Corte não apenas afirmou a natureza constitucional da discussão, como também entendeu ser inconstitucional a incidência do imposto de renda sobre juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego e do IRPJ e da CSLL sobre a Selic recebida pelo contribuinte na repetição de indébito.
No mesmo mês, o STF retomou a discussão sobre a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da Cofins (Tema 118). O julgamento foi reiniciado presencialmente, mantendo-se os votos dos ministros Celso de Mello, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, favoráveis à exclusão.
O ministro André Mendonça alinhou-se a esse entendimento, ante a semelhança com o Tema 69, bem como destacou a necessidade de modulação de efeitos para evitar cobrança retroativa e impactos sobre créditos tributários extintos. Os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes divergiram, em razão de supostas diferenças entre ICMS e ISS na apuração e transferências ao consumidor final. O julgamento foi suspenso e aguarda nova pauta. Por coerência, o STF deveria aplicar a mesma lógica do Tema 69, dada a similaridade dos casos.
Também em agosto, o STF apreciou a constitucionalidade da redução dos percentuais do Reintegra pelo Poder Executivo (ADIs 6.055 e 6.040). Prevaleceu o entendimento do ministro Gilmar Mendes, de que o Reintegra é um benefício fiscal para incentivar exportações e que a definição das alíquotas se insere nas competências do Executivo. Divergiram os ministros Luiz Fux e Edson Fachin, que sustentaram que a redução prejudica a imunidade tributária das exportações garantida pela Constituição.
A decisão destoa de precedentes do Tribunal (ADI 4.735 e RE 759.244), nos quais a corte reconheceu um princípio constitucional amplo em favor da desoneração de exportações, alinhando-se à finalidade da norma imunizante. O tribunal deixou de observar, ainda, que as alterações do Reintegra pelo Executivo devem respeitar os objetivos do artigo 21 da Lei 13.043/14, segundo o qual o programa se destina a devolver o resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados. Alterações na alíquota só são justificáveis se houver mudança na carga tributária da fase pré-exportação. No entanto, os decretos reduziram as alíquotas com o único propósito de equilibrar as contas públicas, objetivo alheio ao programa, o que caracterizou desvio de finalidade e vício de motivação.
Ainda em agosto, o STF decidiu questões relacionadas à incidência do PIS/Cofins em receitas financeiras de seguradoras e instituições financeiras. No Tema 1.309, a corte reconheceu a repercussão geral da discussão em torno da constitucionalidade da incidência de PIS e Cofins sobre as receitas financeiras oriundas de aplicações financeiras das reservas técnicas de empresas seguradoras. No Tema 372, por sua vez, o relator, ministro Dias Toffoli, determinou a suspensão dos processos que discutem a exigibilidade do PIS e da Cofins sobre receitas financeiras de instituições financeiras.
A medida visa evitar a prolação de decisões conflitantes antes do julgamento dos embargos de declaração aviados no aludido processo. Trata-se de importante medida de cautela, pois muitas instituições tiveram de recolher valores elevados atinentes a essa discussão sem que ela estivesse finalizada na Suprema Corte.
Em setembro, o STF reconheceu a repercussão geral no RE 1.310.691 (Tema 1.320), que questiona a incidência da contribuição ao Senar sobre receitas de exportação. O ministro André Mendonça destacou a importância da matéria, que envolve a imunidade tributária sobre exportações e um impacto arrecadatório do julgamento futuro. A corte deveria manter a coerência com precedentes que classificaram a contribuição ao Senar como contribuição social geral (Temas 801 e 651) e, consequentemente, reconhecer a imunidade prevista no artigo 149, § 2º, I, da CF/88. Qualquer decisão que venha a alterar a natureza jurídica já declarada pela corte criará um descompasso interpretativo, além de prejudicar os exportadores.
Em outubro, o STF referendou a medida cautelar na ADI 7.633, que questionava a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos, o que envolveu diálogo institucional com o Congresso e resultou na promulgação do regime de transição constante da Lei nº 14.973/2024.
O STF decidiu, ainda, que a repristinação das alíquotas integrais do PIS e da Cofins pelo Decreto nº 11.374/2023 não está submetida à regra de anterioridade nonagesimal (Tema 1.337). A tese reafirma a jurisprudência do STF firmada na ADC 84, cujo exame de mérito foi concluído em agosto. Como já afirmamos [1], a relativização da anterioridade, direito fundamental do contribuinte, constitui um equívoco, pois se sopesou a aplicação dessa regra a partir de condição nela não prevista.
No mesmo mês, o STF entendeu admissível o ajuizamento de ação rescisória para ajustar decisões transitadas em julgado à modulação de efeitos fixada no Tema 69 atinente à incidência do PIS/Cofins sobre o ICMS (Tema 1.338).
O ministro Roberto Barroso ressaltou que a autoridade das decisões do STF deve prevalecer, desde que a adequação seja realizada por meio de rescisória. A solução contraria a segurança jurídica, pois admite a revisão da coisa julgada anterior à fixação do precedente, em contrariedade à Súmula 343/STF, que restringe tal possibilidade em casos de controvérsia interpretativa à época da decisão.
Além disso, o tribunal deixou de fazer a necessária distinção entre o que se decidiu no plano da validade e o que fora decidido apenas no plano da eficácia (modulação de efeitos) no tema 69. Essa distinção era fundamental para demonstrar que a AR, que visa atingir o plano de validade de uma sentença, seria incabível na hipótese, pois, no mérito, a decisão estava de acordo com — e não contrária à — orientação de fundo do STF.
A corte declarou inconstitucional a sujeição dos rendimentos de aposentadoria e pensão pagos a residentes no exterior ao imposto de renda (Tema 1.174). A decisão estabelece o respeito ao princípio da isonomia, tendo em vista que a sistemática destoava do tratamento dado aos rendimentos de residentes, que estavam sujeitos à tabela progressiva do imposto de renda.
O STF também estabeleceu os limites da multa fiscal qualificada por sonegação, fraude ou conluio à luz da vedação constitucional ao efeito confiscatório (Tema 863). O relator, ministro Dias Toffoli, fixou o limite da multa qualificada em 100% do débito tributário, permitindo a aplicação de até 150% apenas em casos de reincidência ou indícios claros de fraude. Foram ressalvadas as ações judiciais, processos administrativos pendentes e fatos geradores anteriores à lei. A solução é importante por estabelecer balizas objetivas às autuações fiscais.
Em novembro, o STF reafirmou sua jurisprudência histórica pela inconstitucionalidade da compensação automática de dívidas tributárias com precatórios (Tema 558).
Em dezembro, retomou-se o julgamento do Tema 1.214, envolvendo a incidência do ITCMD sobre valores de planos VGBL e PGBL. O relator, ministro Dias Toffoli, afastou a tributação, ressaltando que esses planos têm natureza de seguro de vida, excluída da herança, sendo acompanhado, até o momento, pela maioria do Pleno. O entendimento do relator é correto, pois evita a exigência de cobrança sobre valores que não se transmitiriam causa mortis, ante a natureza de seguro dos contratos pactuados.
Prosseguiu-se, ainda, na discussão acerca da incidência do PIS/Cofins sobre receitas financeiras de entidades fechadas de previdência complementar em período anterior à EC nº 20/98 (Tema 1280). O relator, ministro Dias Toffoli, defendeu a não incidência das contribuições, porém ficou vencido pela divergência inaugurada pelo ministro Gilmar Mendes, para quem os rendimentos de aplicações financeiras estão vinculados às atividades precípuas das EFPCs, a atrair a incidência de PIS e Cofins.
A posição contraria o conceito de faturamento adotado para o período anterior à EC 20/98, considerado o decorrente de vendas ou prestação de serviços, e desconsidera a particularidade dessas receitas atípicas enquanto necessárias à execução dos planos previdenciários.
As decisões de 2024 levantam reflexões sobre segurança jurídica, em especial nos casos que envolvem modulação de efeitos.
—
O post Retrospectiva tributária e a padronização dos critérios de modulação do STF apareceu primeiro em Consultor Jurídico.